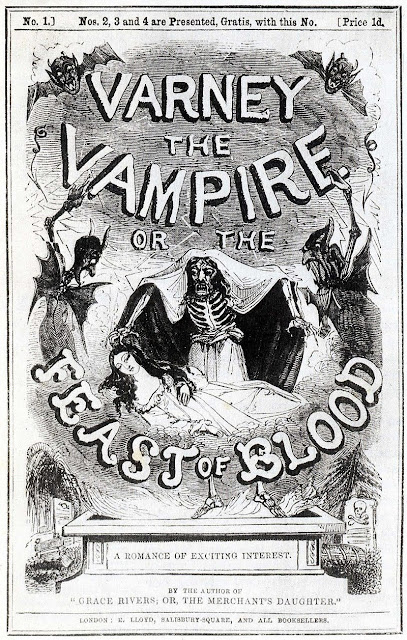O seguinte texto consiste no capítulo 1 da dissertação de mestrado intitulada Penny Bloods: o horror urbano na ficção de massa vitoriana (2015), escrita por Karina dos Santos Salles. Os interessados pelo restante do trabalho dela, podem buscá-lo na internet. Não obstante, sublinho que neste capítulo a autora somente fez uso de duas gravuras, mas para fins de ilustração, tomei a liberdade de colocar outras imagens para tornar as menções no texto mais claras.
***
Em uma palestra realizada no dia 14 de outubro de 2013 em
Londres pela The Reading Agency, uma organização de incentivo à leitura, Neil
Gaiman, escritor britânico, discorreu sobre a importância da leitura. Dentre os
diversos tópicos relacionados ao tema, ele destacou a função das bibliotecas
como cultivadoras do hábito de ler, a responsabilidade dos cidadãos de
exercerem tal atividade como parte da formação do indivíduo e da valorização do
conhecimento, e a necessidade de ler ficção. De acordo com ele,
“A ficção tem dois usos. Primeiro, ela é uma porta de
entrada à leitura. O desejo de saber o que vem depois, virar a página, a
necessidade de continuar, mesmo que seja difícil, porque alguém está com
problemas e você precisa saber como tudo vai terminar... esse é um desejo muito
real. E isso te impele a aprender palavras novas, ter pensamentos novos,
prosseguir. Descobrir que ler por si só é prazeroso. Uma vez que aprenda isso,
você está a um passo para ler tudo. E ler é fundamental. […] E a segunda coisa
que a ficção faz é criar empatia. Quando você assiste à TV ou a um filme, está
vendo coisas acontecendo com outras pessoas. A ficção em prosa é algo que se
constrói com 26 letras e um punhado de sinais de pontuação, e você, sozinho, usando
sua imaginação, cria um mundo, povoa-o, olha para ele com outros olhos. Você
consegue sentir coisas, visitar lugares e mundos que nunca conheceria de outra
forma. Você aprende que todo mundo ali é um eu também. Você está sendo outra
pessoa e, quando voltar para o seu próprio mundo, estará ligeiramente mudado”.4
Sendo um autor de ficção que escreve tanto para o público
adulto quanto para o infantil, Gaiman ressalta que os adultos têm participação
significativa no despertar de interesse das crianças pela leitura, mas que
devem deixá-las lerem livros de que elas gostem, sem censuras ou imposição de
gostos pessoais. Para ele, não há livros, autores ou gêneros ruins para
crianças, e persistir nessa ideia pode ter um efeito contrário ao desejado:
“Adultos bem intencionados podem destruir o amor de uma
criança pela leitura: proíba-a de ler o que ela gosta ou dê-lhe um livro digno
porém sem graça do qual você gosta, os equivalentes do século XXI à literatura
“edificante” da era vitoriana. Você terá uma geração convencida de que ler é
chato e, pior, desagradável”.5
O discurso de Gaiman como um todo, inserido como está no
escopo do trabalho realizado por instituições como a The Reading Agency, é
bastante representativo das questões que ainda hoje se fazem pertinentes acerca
da leitura. A sociedade contemporânea atribui um grande valor educativo e
cultural à atividade: ler significa não só adquirir conhecimento e desenvolver
senso crítico, mas também deixar a imaginação fluir e se permitir um prazer; e
para leitores assíduos, ler assume uma função ainda mais importante, que é a
prática do cultivo de si. Entretanto, existem certas preocupações com o futuro
e o “uso” que se faz da leitura. Muitas pessoas acreditam que o hábito esteja
se perdendo por conta da variedade de “distrações tecnológicas” que nos cerca.
Outras, por sua vez, lamentam a qualidade de conteúdo de certos livros,
sobretudo de ficção, criticando o escapismo proporcionado por eles ou
simplesmente rotulando-os como literatura de mau gosto.
A suposição de que o prestígio atual da literatura estaria
ameaçado pela circulação de livros “ruins” revela um grande anacronismo, uma
vez que se reproduz numa época em que a ficção ocupa um espaço enorme na
cultura (não só através de livros, mas também de filmes, peças de teatro e
jogos eletrônicos), e representa uma visão vitoriana de que a literatura “boa”
é necessariamente “edificante”, conforme sugerido por Gaiman.
Polêmicas à parte, a leitura de ficção hoje é vista como uma
atividade corriqueira e até mesmo benéfica para a imaginação, mas ela já foi
considerada um hábito prejudicial ao bom senso dos leitores em um passado não
muito distante na Inglaterra. Essa ideia ganhou muita força da metade do século
XVIII até as primeiras décadas do século XIX, período em que o romance se
consolidou como forma literária, e surgiu como uma reação hostil à própria
configuração do gênero: não sendo clássico, nem poesia e nem história, o
romance não podia ser considerado uma forma legítima de discurso;6 não sendo visto
como uma fonte de instrução, ele foi reduzido a um entretenimento frívolo e
deteriorante, pois, acreditava-se, distorcia a realidade e feria valores morais
com seu retrato exageradamente sentimental da vida, formando, assim, leitores
iludidos e distraídos.7
À medida que se popularizava, o romance assimilou temas e
estilos diversos, ramificando-se em subgêneros que disseminavam histórias sobre
crimes, horror e escândalos, o que só fez aumentar o pânico moral na sociedade
em relação à leitura de ficção. Um desses subgêneros ficou conhecido como penny
blood, tendo surgido sob a forma de narrativas serializadas em periódicos
semanais ou mensais publicados nas décadas de 1830 e 1840. Essas narrativas
eram produzidas em larga escala por editores cujos escritórios se localizavam
na Rua Fleet, o centro da imprensa inglesa, os mais proeminentes sendo Edward
Lloyd, responsável pela publicação de títulos como Varney the Vampire, or the
Feast of Blood (1845-1847) e The String of Pearls: A Romance (1846-1847), e G. W.
M. Reynolds, autor de The Mysteries of London (1844-1846), Wagner the Wehr-Wolf
(1846-1847) e The Mysteries of the Court of London (1848-1855).8 Por serem
muito consumidas e apreciadas pela classe trabalhadora, essas narrativas eram
tidas pela classe média vitoriana como um tipo de literatura barato e de mau
gosto, que apelava para o prazer mórbido das massas em ver sangue9 e
representava um entretenimento facilmente comercializável10 – daí o seu nome
depreciativo, que deriva de “penny”, em referência ao valor que custavam, e
“blood”, em alusão às cenas sangrentas contidas nelas.
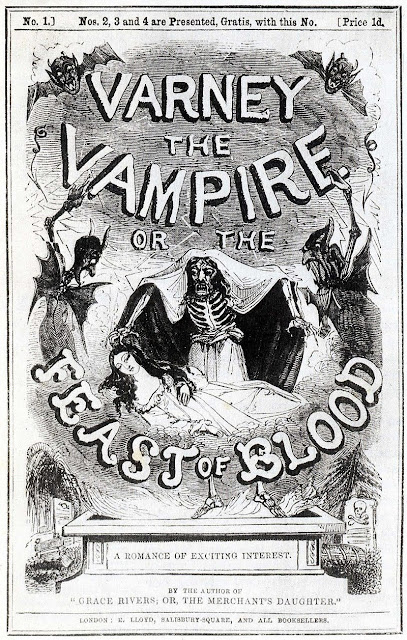 |
| Capa de Varney o Vampiro: ou o banquete de sangue. Edição de 1845. Um dos mais famosos penny blood do período. |
A
penny blood constituiu um subgênero bastante vasto e rico do romance. As
críticas direcionadas a ela na era vitoriana, no entanto, foram um dos fatores
que mais contribuíram para que permanecesse no esquecimento por tanto tempo.
Muito dessa hostilidade se devia a um conflito de classes: a classe média, que,
com a classe alta, compunha a maior parte do público leitor inglês até então,
via a cultura impressa consumida pela classe trabalhadora como uma ameaça à sua
posição ideológica dominante, visto que ela se expandia de maneira proporcional
ao número de leitores recém-alfabetizados dessa classe. Além disso, levando-se
em conta que a leitura de ficção seria uma atividade suspeita, “[e]xaminar o
conteúdo e o teor de materiais de leitura se tornou [...] uma forma
aparentemente simples de fazer uma investigação social”,11 conforme apontado
por Kate Flint.
Ao
passar pelo crivo da classe média, a penny blood foi tachada de literatura
marginal por seu estilo “indevidamente melodramático e sensacionalista” para os
padrões aceitos como “bons” e “respeitáveis” e pelas histórias
“psicologicamente nocivas” aos leitores mais suscetíveis. A proposta deste
capítulo, portanto, é resgatar um pouco de sua história, traçar suas principais
características formais e temáticas e tratar de sua relevância como uma
categoria da literatura vitoriana que deu origem ao que hoje se entende por
ficção de massa.
1.1
Urbanização, alfabetização e o mercado editorial: três condições básicas
O
surgimento da penny blood está significativamente ligado às transformações
socioculturais pelas quais a sociedade vitoriana passou, desencadeadas por
fatores maiores, principalmente políticos e econômicos, relativos à Revolução
Industrial e ao imperialismo: este permitiu que a Inglaterra expandisse seu
mercado consumidor para outros territórios, e aquela fez com que as grandes
cidades se transformassem em centros urbanos industrializados.
O crescimento das cidades se deveu não só ao ritmo acelerado
de industrialização e urbanização, mas também à grande migração de
trabalhadores das áreas rurais para os centros urbanos em busca de emprego. A
população aumentou consideravelmente: o número de habitantes subiu de 8,9 para
32,5 milhões em todo o país durante o século XIX;12 em 1851, 3,5 milhões deles
moravam em Londres.13 Desse modo, a então maior capital do mundo se transformou
em um labirinto de ruas, avenidas e estradas, bem como de praças, pequenos
estabelecimentos comerciais e grandes fábricas. Alguns espaços eram mais
nobres; outros, mais “modestos”, e neles transitavam pessoas de todas as
classes sociais.
 |
| Gravura retratando como seria o aspecto de Londres por volta de 1850. Nessa época a cidade começou a crescer rapidamente. |
Com a grande concentração de pessoas, não tardou para que a
busca por entretenimento e informação também acontecesse. No período vitoriano,
vários passatempos e formas de diversão surgiram para uma grande parcela da
sociedade, tais como viagens (feitas nas ferrovias recém-construídas, onde um
grande número de mercadorias e de pessoas circulava), turismo, teatros, salões
de música, concertos, pubs e jardins.14 O acesso à informação, por sua
vez, foi de extrema importância para que a sociedade pudesse discutir e
procurar entender a série de mudanças que sofreu tão rapidamente:
“Entre a vasta coleção de bens e materiais produzidos
durante o começo agressivo do industrialismo na Grã-Bretanha no início do
período vitoriano, nenhum foi mais largamente disseminado, mais instrumental
para a vida cotidiana e mais essencial para a formação da cultura industrial
que a informação, pois junto com a grande mistura de coisas que parecia fluir
descontroladamente das fábricas britânicas, um rio de conhecimento (e questões)
sobre como o mundo funcionava percorreu cada aspecto da vida vitoriana. Os
sinais externos mais notáveis de uma mudança material sem precedentes da era –
máquinas a vapor, fábricas, ferrovias, urbanização – denotavam transformações
ainda maiores na maneira como as pessoas pensavam e agiam. Noções sedimentadas
sobre tudo, de gênero a nacionalismo, de classe a religião, de propriedade a
biologia, estavam abertas a questionamentos. Até mesmo pressupostos sobre
princípios básicos como espaço e tempo eram desafiados. As pessoas não só
estavam vivendo de forma diferente; elas estavam pensando, falando, escrevendo
e agindo de forma diferente. Elas estavam existindo de forma diferente”.15
(grifos no original)
No entanto, para que a população tivesse acesso a entretenimento
e informação, era preciso um intermediador que lhe oferecesse meios para
obtê-los, e quem cumpriu esse papel foi a educação. Na era vitoriana, a
educação em massa passou a ser uma das prioridades do parlamento britânico, uma
vez que validava a ideia expressa por reformistas liberais e industrialistas de
que ela era “vital para a capacidade da nação em manter sua liderança em
manufatura”16 e para tornar os trabalhadores mais produtivos e disciplinados.17
Além disso, educar a população refletia a ideia de que a
educação e o conhecimento têm o poder de civilizar e igualar as pessoas, bem
como capacitá-las para desafiar seus limites na vida, aproveitar seus talentos
e adquirir conhecimento útil; acreditava-se que, com educação, elas circulavam
e obtinham sucesso.18 O resultado disso foi o aumento dos índices de
alfabetização da população, em especial os da classe trabalhadora, a partir da
implementação da Lei da Educação Básica de 1870, que previa a construção de
escolas nas áreas mais carentes, caso a provisão voluntária fosse insuficiente,
por parte de Conselhos de Educação locais. Essas escolas em geral não ofereciam
o currículo completo, mas pelo menos os alunos aprendiam a ler e a escrever
razoavelmente. Estima-se que, no final do século XIX, 97,2% dos homens e 96,8%
das mulheres da população britânica eram alfabetizados.19
O aumento da alfabetização fez com que o hábito da leitura
se popularizasse não só como forma de acesso à informação, mas também como
entretenimento. Essa “nova função” da leitura possibilitou certas mudanças na
atividade editorial, que, no início do século, era um negócio mantido por um
grupo seleto de editores e livreiros tradicionais. Livros costumavam ser
artigos de luxo exclusivos para leitores ricos, que compravam romances novos
dos poucos livreiros ou vendedores ambulantes espalhados pelo país ou faziam
empréstimos de bibliotecas ambulantes locais, pagando assinaturas anuais
caras.20 Torná-los produtos mais acessíveis e rentáveis dependeu de uma série
de fatores, tais como a redução dos custos de produção de papel e de processos de impressão (o que
permitiu uma escala de produção mais extensa), a construção de rodovias e a
diminuição dos impostos sobre postagem (que facilitavam o transporte de mercadorias).21
A crescente demanda por ficção sinalizava boas oportunidades
comerciais, mas também trazia riscos para empreendedores recém-estabelecidos no
mercado, pois mesmo com custos de produção reduzidos, o investimento inicial
que a atividade editorial demandava era alto.22 Em associação com escritores
dispostos a publicarem seus textos, editores e livreiros desenvolveram um
método de especulação que consistia em lançar romances de gêneros diversos e
formatos de publicação específicos (o romance publicado em três volumes, como
se costumava fazer na época, e as edições em brochura, comumente conhecidas
como paperbacks e yellowbacks23, foram exemplos disso) e esperar para ver como
o público em geral os receberia; caso os leitores se mostrassem inclinados a
adquiri-los ou expressassem uma boa opinião sobre eles, esses romances e
formatos eram mantidos e circulavam até que o índice de leitura e os lucros
declinassem24 – o que indicava que o público havia começado a perder o
interesse por eles.
Foi a partir de experiências como essas que os romances
serializados começaram a ganhar cada vez mais espaço no mercado editorial. A
serialização, além de ter se apresentado como uma alternativa mais acessível e
barata ao romance publicado em três volumes, contribuiu para o estreitamento da
interação entre autor e leitor: romancistas populares como Charles Dickens e
Wilkie Collins, por exemplo, escreviam ao sabor das expectativas dos leitores
em relação às suas histórias.25 A atitude desses e outros autores também indica
uma tendência para a publicação de romances especializados, que atendiam às
preferências de grupos distintos, sobretudo do público leitor emergente – a
classe trabalhadora.
 |
| Frontispício de Oliver Twist (1838), escrito por Charles Dickens, na época usando o pseudônimo de Boz. O livro é um dos mais famosos de Dickens e inicialmente foi lançado como romance seriado, dividido em três volumes. Dickens ao longo da carreira seguiu o formato de romances seriados, populares na época. |
A penny blood, portanto, foi resultado da confluência de
três fatores básicos: a alfabetização em massa, o desenvolvimento do mercado
editorial e a busca por entretenimento, compondo-se como um material de leitura
intencionalmente voltado para a classe trabalhadora. De certa forma, seu
surgimento reflete um desejo dessa camada da população de tomar parte na
atividade de leitura, visto que, já naquela época, a literatura, em seu sentido
mais amplo, era vista como um valor essencial pela sociedade; nos meios populares,
entretanto, ela representava um domínio dificilmente acessível (provavelmente
por uma questão de dificuldade de linguagem), e embora se atribuísse muita
importância a ela enquanto atividade cultural, sua prática real ainda era
limitada.26 Mas como ela dava conta de se enquadrar na capacidade linguística e
ao mesmo tempo satisfazer os gostos de uma clientela tão vasta? Basicamente,
expressando-se por meio de uma fórmula de linguagem simples e agregando temas e
estilos que despertavam o interesse desse grande público.
1.2 A forma da penny blood
Embora tenha se desenvolvido como um subgênero do romance,
seguindo então os padrões básicos dessa forma literária, a penny blood passou
por algumas adaptações estruturais para atenderem ao seu público alvo. Em um
artigo intitulado “The Physiology of ‘Penny Awfuls”, Walter Parke, crítico e
humorista inglês que escrevia sob o pseudônimo “The London Hermit”, relata de
maneira um tanto irônica como ele foi apresentado a esse subgênero do romance e
descreve algumas de suas principais características, começando pelo formato e
pelo tema:
Uma “Penny Awful” é, ao que parece, um folheto de oito ou
dezesseis páginas que contém uma história contínua de caráter bastante
sensacionalista e aventuresco, decorado com ilustrações dramáticas e até mesmo
horripilantes e vendido pela pequena quantia de um penny por semana. A
publicação continua na medida em que se possa garantir uma circulação
lucrativa, tanto mantendo o interesse da história em si quanto pelo estímulo
adicional de brindes na forma de ilustrações coloridas ou suplementos. Alguns
adeptos o chamam de “Penny Dreadfuls”, mas “Awfuls” me parece de longe o termo
mais expressivo27
Antes de prosseguir, porém, torna-se necessário esclarecer
um ponto: afinal, penny awful, penny dreadful e penny blood são sinônimos ou
designam três objetos diferentes cada um? Essa é uma questão importante, pois a
concomitância desses termos gera bastante confusão e desacordo entre leigos e
pesquisadores desse tipo de ficção, mas fornecer uma resposta a ela é uma
tarefa complicada, pois envolve generalizações equivocadas e pontos de vista
opostos. De maneira geral, penny blood se refere a uma determinada categoria de
histórias populares, e penny dreadful (bem como o sinônimo penny awful) a
outra; da mesma forma, a primeira constitui o objeto de estudo da presente
dissertação, e a segunda, não.28 A causa de toda a confusão em torno dessas
duas categorias está no fato de que as diferenças entre elas são sutis, mas
ainda assim existentes.
Tal como foi dito anteriormente, as penny bloods circularam
durante as décadas de 1830 e 1840 e tinham como seus principais difusores
Edward Lloyd e G. W. M. Reynolds. Elas continham histórias serializadas de
horror e de crime com um apelo marcadamente gótico (isso será abordado com mais
detalhes na próxima seção) e eram destinadas sobretudo ao público adulto da
classe trabalhadora; entretanto, à medida que o interesse desse público por
elas diminuía e se voltava para os jornais dominicais e as revistas ilustradas
semanais (que ofereciam mais conteúdo pelo mesmo preço), as penny bloods
começaram a ser apropriadas pelos adolescentes recém-alfabetizados da classe
trabalhadora como forma de entretenimento.29
Essa transição de público leitor
contribuiu para que editores como Edwin J. Brett e os irmãos George, William e Henry Emmett criassem um
mercado de publicações específicas para a nova clientela juvenil, e assim
surgiram as penny dreadfuls, histórias de crime e de violência com um tom mais
aventuresco protagonizadas por bandidos, piratas, salteadores ou simplesmente
jovens indisciplinados e rebeldes que vagueavam pelo submundo londrino – muitas
vezes, esses personagens eram representados de forma heroica e romantizada,
como se fossem movidos pela injustiça ou por uma razão mais nobre que o puro
crime, e por isso, as narrativas que protagonizavam eram rechaçadas pela classe
média como uma exaltação da vida criminosa.
Apreciadas sobretudo pelos garotos,
elas foram publicadas durante as décadas de 1860 e 1870 e incluíam títulos como
Black Bess; or, The Knight of the Road (1863-1868), Spring-heel’d Jack: The
Terror of London (1863), The Wild Boys of London; or, The Children of the Night
(1864-1866), entre outros. O termo penny
dreadful, no entanto, entrou em uso somente na década de 1870, após ter sido
cunhado pejorativamente por jornalistas e outros ideólogos culturais da classe
média30 para designar qualquer tipo de ficção barata lida pela classe
trabalhadora em geral, o que deu início à imprecisão relacionada a ele e ao
termo penny blood.31 A partir dessas informações, vê-se que os elementos que
distinguem essas duas categorias são a época de publicação, o público leitor, o
editor e o estilo (enquanto os enredos da penny blood tendem para o horror
gótico, os da penny dreadful tendem para a aventura).
 |
| Capa colorida de uma edição de Black Bess ou o Cavaleiro da Estrada (c. 1860), um dos mais populares penny dreadful da época. Voltada para o público juvenil-adulto, narra de forma romântica a história de um salteador de estradas. |
Por outro lado, ambas se assemelham no que diz respeito à
forma e às sensações que causam no leitor, uma vez que a penny blood, tendo
antecedido a penny dreadful, influiu no modo como esta floresceu. Voltando para
o relato de Walter Parke, ele informa que a penny awful (aparentemente ele
emprega esse termo de modo a englobar penny bloods e penny dreadfuls) segue uma
fórmula especial, revelada a ele por um escritor (que é fictício) chamado
O’Riginal:
“ela deve ser algo surpreendente, que faça com que [os
leitores] esperem pelo próximo número, mesmo que você tenha que interromper um
capítulo no meio para que ele caiba. Não importa qual seja o enredo, ou que
você realmente tenha algum, desde que os incidentes sejam sensacionalistas e um
ar de mistério seja jogado aqui e ali”.32
Por isso, O’Riginal lhe diz, nem todo escritor é capaz de
produzir penny awfuls, pois como se trata de uma literatura comercial, é
preciso ter habilidades especiais para escrevê-las com sucesso, tais como a
construção inteligente e certa genialidade original.33 A maioria dos produtores
de penny bloods (e de penny dreadfuls) era composta por hack writers,
escritores profissionais que produziam histórias de “baixa qualidade” em prazos
curtos e que eram pagos por palavra ou por linha; por isso, as narrativas
costumavam ser extensas e levar anos para serem concluídas. Devido ao grande
volume de trabalho, eles se dedicavam a várias séries simultaneamente, o que
devia comprometer consideravelmente a “genialidade” da qual O’Riginal fala.
Quanto a isso, E. S. Turner mostra que o texto das penny bloods (e das penny
dreadfuls) nem sempre era construído de maneira inteligente:
“A tarefa de editar e revisar penny dreadfuls [e penny
bloods] parecia ser realizada de maneira despreocupada. Não havia nenhuma
tentativa de fazer com que uma parte terminasse em uma pausa lógica na
narrativa. Raramente havia qualquer tentativa de construir um clímax, de modo a
estimular o leitor a comprar o próximo número. [...] [G]eralmente, as partes
frequentemente terminavam no meio de uma frase de explicação entediante e não
havia “resumo do capítulo anterior” na parte seguinte. Não era raro que as
ilustrações remetessem à parte anterior ou à seguinte; às vezes elas nem se
relacionavam à história. Erros de ortografia eram quase tão abundantes quantos os de
gramática, que eram muitos. [...] A simplicidade extrema de estilo passou a ser
cultivada gradualmente – aquele estilo de frases curtas em pizzicato [...] Os
escritores da velha guarda desprezam essa adulteração literária, apontando que
algumas colunas da narrativa continham mais espaços em branco do que escritos.
Cada parágrafo consistia em uma frase única, e cinco de seis frases eram
bruscamente interrompidas. Um bom número de frases, de fato, continha um substantivo,
um verbo e mais nada. Às vezes não tinham nem verbo. Todas as afetações, tais
como dois pontos e ponto e vírgula, eram cruelmente removidas, mas os pontos de
exclamação eram utilizados em grande quantidade. A simplificação – presumivelmente em benefício do público
recém-alfabetizado e não (como alguns afirmavam) para a conveniência dos
autores recém-alfabetizados – era levada a um nível sem precedentes. Duas
possibilidades se apresentam: que o estilo de frases curtas era uma economia de
esforço deliberada dos escritores que ganhavam consideravelmente menos de um
penny por linha; e que às vezes a brevidade extrema dos parágrafos pode ser
sido um recurso editorial desesperado de alongar uma cópia que ficou muito
curta para o espaço alocado”.34
Conforme indicado no início desta seção, o artigo de Parke é
pontuado de ironia, funcionando dessa forma como uma crítica às penny awfuls,
como prefere chamá-las. Ele aponta, por exemplo, para os “efeitos indesejados”
da leitura desse tipo de ficção, cuja tendência moral gerava objeções porque as
histórias continham cenas, incidentes e insinuações licenciosas ocasionalmente;
de acordo com ele, isso as tornava um tipo de literatura “simplesmente absurda
e pueril para leitores adultos de inteligência mediana” (nesse caso, as penny
bloods, que atendiam ao público adulto) e “potencialmente perigosa nas mãos da
juventude pouco instruída” (as penny dreadfuls e seu público juvenil), uma vez
que incentivava o desrespeito à lei, à ordem e aos deveres do dia a dia,
fomentava expectativas vãs e noções falsas da vida e mostrava imagens
inverossímeis e sem o refinamento do romance poético.35
Por fim, ele conclui seu relato com uma solução para o
“problema” apresentado pelas penny awfuls (e penny bloods): "se não há como
bani-las por lei, e se não se pode pôr toda a culpa em seus autores, que
trabalham para viver e que escrevem desse modo para se adaptarem ao seu
mercado-alvo, nem em seus editores, pois a literatura em geral vinha sendo tratada
como um comércio e não seria razoável esperar que as classes mais baixas de
comerciantes literários tivessem escrúpulos, e muito menos em seus leitores por
seu mau gosto, já que tinham sido apresentados somente a esse tipo de
literatura, a solução que resta é a disseminação da educação, não só em termos
de utilidade e intelecto, mas também de imaginação – como um escritor com
habilidade e genialidade verdadeiras para escrever para as massas sem recorrer
ao horror, ao crime e às sensações, mas, em vez disso, combinar o fascínio das
penny awfuls com o estímulo à imaginação de maneira saudável e apresentando um
propósito moral".36
A penny blood, portanto, é um tipo de ficção que possui uma
forma específica, com uma linguagem mais simples, de modo a tornar a leitura
mais fácil para seu público alvo; essa adequação, porém, contribuiu para que
ela fosse tachada de um tipo de literatura “inferior”, sem mencionar os temas e
os enredos comuns a ela, que envolviam crimes sangrentos e cenas permeadas de
horror.
1.3 Crime, escândalo, horror e a formação do gótico urbano
Apesar de constituir um subgênero específico, a penny blood
se configurou como um emaranhado de subgêneros do romance, visto que
apresentava características de formas diversas. A maioria dessas influências
vinha de outros subgêneros que se tornaram populares mais ou menos na mesma
época em que as penny bloods surgiram, tais como o romance de Newgate e o
romance sensacionalista, enquanto outras pertenciam a fontes anteriores, como o
broadside e o romance gótico.
O broadside era uma espécie de panfleto muito difundido do
século XVI ao XIX que continha relatos de crimes, julgamentos, execuções e as
supostas confissões de criminosos condenados, geralmente acompanhados por uma
ilustração do texto, e custava apenas um penny.37 Era vendido durante execuções
públicas, eventos que, por mais chocantes e repulsivos que fossem, atraíam um
grande número de espectadores. De fato, os vitorianos mantinham um fascínio
mórbido por sangue e violência que sobreviveu até mesmo à proibição das
execuções em 1868: o prazer de assistir à morte dos condenados foi revertido
para a leitura de histórias com uma boa dose de crime e de tortura.
Além do próprio broadside, havia o Newgate Calendar,
inicialmente um boletim mensal de execuções publicado em 1773 pelo diretor da
prisão de Newgate em Londres, que acabou se transformando em crônicas
ilustradas descrevendo crimes terríveis e as punições violentas infligidas aos
seus perpetradores. Essas narrativas eram usadas à guisa de exemplo moral para
seus leitores, mostrando que havia uma punição severa para todo tipo de crime,
mas o estilo sensacionalista delas, que conferia um tom de aventura e de
espetáculo aos relatos, acabava sugerindo uma certa exaltação do crime e do criminoso.38
 |
| Edição de 1863 do Newgate Calendar. Esse boletim da prisão de Newgate, lançado no final do século XVIII acabou ganhando uma popularidade inesperada, sendo publicado por décadas é inspirando a origem de um subgênero literário, centrado em histórias de criminosos. |
O Newgate Calendar, por sua vez, deu origem ao romance de
Newgate, um subgênero produzido nas mesmas décadas da penny blood. Seus enredos
geralmente se ambientavam no mundo do crime e se concentravam na vida de
ladrões, salteadores e até assassinos. O primeiro romance de Newgate foi Paul
Clifford (1830), de Edward Bulwer-Lytton, e, de acordo com F. S. Schwarzbach,
se estabeleceu como um modelo para as obras inseridas nesse subgênero:
“Ambiente a história no século anterior; abra-a descrevendo um
tempo incrivelmente ruim; apresente uma criança pobre que seja órfã ou algo
equivalente; faça com que ela seja corrompida por uma vida de crimes; retrate
vários covis e se possível um esconderijo dentro de uma caverna; salpique o
diálogo com gírias chulas; acrescente uma reviravolta no enredo que envolva
atos escusos cometidos pelos ricos (geralmente, sem que se saiba, um parente
próximo do protagonista); e conclua com o personagem principal conseguindo,
contra todas as probabilidades, demonstrar verdadeira nobreza, casar com uma
herdeira e se redimir até a última página”.39
Alguns criminosos reais se tornavam protagonistas desses
romances, como foi o caso de Dick Turpin, um salteador que se tornou uma lenda
no século XVIII e foi morto em 1739, e de Jack Sheppard, um assaltante que foi
preso várias vezes, fugiu na maioria delas e acabou sendo enforcado em 1724.40
Muitos críticos viam essa transferência de figuras históricas para a ficção
como uma romantização do criminoso, principalmente quando havia um motivo
psicológico para seus atos ou quando retratavam-no como uma vítima da
sociedade,41 e acusavam seus autores de exaltarem outros comportamentos
considerados tão imorais quanto o crime, como a prostituição.
O crime também estava presente no romance sensacionalista,
inaugurado na década de 1860 pela obra The Woman in White (1860),42 de Wilkie
Collins, embora não tenha sido seu tema central. Lyn Pykett descreve o romance
sensacionalista da seguinte forma:
“[...] o gênero sensacionalista era um conceito jornalístico,
um rótulo atribuído por críticos a romances cujas histórias se concentravam em
atos criminosos ou transgressões sociais e paixões ilícitas e que “apelavam
para os nervos” [...] Os romances sensacionalistas eram contos da vida moderna
que tratavam de confrontos nervosos, psicológicos, sexuais e sociais e que
tinham enredos complicados envolvendo bigamia, adultério, sedução, fraude,
falsificação, chantagem, sequestro e, às vezes, assassinato”.43
 |
| Capa do romance Woman in White (1860), escrito por Wilkie Collins, tornou-se o precursor dos chamados "romances sensacionalistas", os quais abordavam temas sociais polêmicos ou tabus da época. |
O sensacionalismo atribuído a esse tipo de romance seguia
uma fórmula básica: apresentar a corrupção e o escândalo como segredos da vida
cotidiana de modo que, ao serem revelados por debaixo das aparências moldadas
pela moral vitoriana, provocassem sensações diversas e intensas no público. Na
vida real, esses tabus não eram discutidos abertamente, pois geravam grande
ansiedade, mas quando transpostos para ficção, eram extrapolados de tal forma
que, dizia-se, corrompiam o senso de realidade do leitor, sugerindo que a
ficção era mais empolgante que a vida comum e levando-o a crer que o mau
comportamento era excitante e atrativo. Uma das principais críticas feitas ao
romance sensacionalista, porém, vinha do fato de que os enredos se voltavam
para as vidas domésticas das classes média e alta, que foram tomadas de pânico
moral ao se verem retratadas como classes essencialmente degradadas.44
O romance sensacionalista vitoriano devia muito ao romance
gótico do final do século XVIII, principalmente por conta de suas narrativas
chocantes e tensas. Havia, no entanto, uma diferença básica entre eles: se
naquele a reação emocional do leitor aos escândalos era o choque moral, neste
ela se traduzia em horror, que é uma reação de medo ao que é ameaçador e
desconhecido, conforme sucintamente apontado por Jerrold E. Hogle:
“[...] uma história gótica geralmente se passa [...] em um
espaço antiquado ou aparentemente antiquado – seja ele um castelo, um palácio
exótico, uma abadia, uma prisão vasta, uma cripta subterrânea, um cemitério,
uma fronteira ou uma ilha primitiva, uma casa velha e grande [...] Dentro desse
espaço, ou uma combinação deles, escondem-se alguns segredos do passado (às
vezes do passado recente) que assombram os personagens de maneira psicológica,
física ou de alguma outra forma no tempo em que a história se passa. Essas
assombrações podem tomar várias formas, mas frequentemente assumem as
características de fantasmas, espectros ou monstros (que misturam
peculiaridades de diferentes reinos, especialmente da vida e da morte) que
surgem de dentro do espaço antiquado, ou às vezes o invadem partindo de um
reino estranho, para manifestarem crimes não resolvidos ou conflitos que não
podem mais fugir à vista efetivamente. É nesse nível que a ficção gótica
geralmente oscila entre as leis terrenas da realidade convencional e as
possibilidades do sobrenatural [...] levantando a possibilidade de que as
fronteiras entre elas podem ter sido cruzadas, pelo menos psicologicamente, mas
também fisicamente, ou ambos”.45
O horror se compunha ainda de outros elementos típicos, como
o vilão e a donzela em perigo, mas suas características iam além desses
símbolos: o gótico estava intimamente associado com um passado primitivo e
bárbaro em contraposição a um presente civilizado, procurando definir-se como
detentor dos valores deste e distanciar-se daquele. Estranhamente, contudo, o
gótico identifica esse passado não civilizado como as fundações legítimas de
uma cultura há muito perdidas, o qual, por isso, seria mais poderoso que o
presente civilizado.
No século XVIII, o termo “gótico” estava relacionado aos
godos, povos germânicos considerados bárbaros, mas que posteriormente serviu
para se referir à herança nacional e cultural deixada por eles quando invadiram
a Inglaterra no século V. Em consonância com essa visão de um passado não civilizado,
porém vigoroso, o gótico passou a ser idealizado como uma das origens da nação
britânica.46
O romance gótico teve influências claras na ficção produzida
entre as décadas de 1830 e 1860, especialmente na penny blood, que já
compartilhava elementos dominantes de outros subgêneros contemporâneos a ela,
tais como a representação do submundo do crime herdada do romance de Newgate, o
excesso e as transgressões da vida doméstica que se manifestam no romance
sensacionalista e as cenas ocasionais de violência do broadside. Ao ser
resgatado pela penny blood, porém, o estilo gótico tradicional sofreu um
processo de domesticação, mesclando-se com o momento da Revolução Industrial e
do desenvolvimento das cidades, e por isso ficou conhecido como o gótico vitoriano
– ou gótico urbano, conforme será chamado ao longo desta dissertação. David
Punter e Glennis Byron, em seu compêndio sobre o gótico, definem o estilo da
seguinte forma:
“O gótico vitoriano é marcado principalmente pela
domesticação de figuras, espaços e temas góticos: os horrores se localizam
explicitamente dentro do mundo do leitor contemporâneo. O vilão romântico do
gótico se transforma à medida que monges, ladrões e os ameaçadores aristocratas
estrangeiros cedem lugar para criminosos, loucos e cientistas. As ambientações
exóticas e históricas que servem para distanciar os horrores do mundo do leitor
no gótico tradicional são substituídas por algo mais perturbadoramente
familiar: o mundo doméstico burguês ou a nova paisagem urbana”.47
Outros elementos presentes no gótico tradicional que foram
transfigurados para a nova realidade do século XIX incluem a donzela indefesa,
que é constantemente perseguida e perturbada pelo vilão, mas que, no gótico
urbano, se torna qualquer pessoa (ou todo um grupo) que simbolize a moral e a
virtude; os castelos, que foram substituídos por prisões, manicômios e pelos
labirintos claustrofóbicos da cidade; o horror que assola os personagens não é
a aparição de um fantasma, mas sim o crime e a corrupção que se abrigam tanto
no espaço público quanto no doméstico.
A partir dessa convergência de subgêneros, a penny blood
acabou formando um estilo próprio: o gótico urbano, surgido em meio às
transformações sociais e culturais pelas quais passou a sociedade vitoriana,
procurou articular a nova ordem social capitalista48 com o discurso desse novo
tipo de ficção popular, criando, assim, a evocação do horror característica do
subgênero.
1.4 A penny blood e a inauguração da ficção de massa
A penny blood hoje é reconhecida por alguns críticos como
uma das formas inauguradoras da ficção de massa, principalmente por conta de
seu formato acessível e barato e de seu foco em um público leitor específico.
Ao situarem as origens dessa categoria de ficção no século XIX, David Glover e
Scott McCracken, por exemplo, argumentam que
“[...] é a aplicação das novas tecnologias da produção
industrial à publicação, um mercado em expansão impulsionado pelo aumento da
alfabetização e da urbanização, e a emergência de uma nova mídia comercial que,
juntas, mudam definitivamente as condições nas quais a ficção popular é
criada”.49
Nesse sentido, a penny blood foi fruto de uma intensa
atividade comercial desenvolvida nesse período, que favoreceu especialmente o
mercado de ficção em expansão, caracterizado sobretudo pela difusão em larga
escala de jornais, revistas e periódicos cujo foco eram histórias e romances
publicados em série; entretanto, esse era um campo que ainda gerava
desconfiança entre os ideólogos culturais da época por representar um
depauperamento e uma comercialização indesejada da literatura, que, nesse
contexto, perderia seu valor artístico e se reduziria a um fabrico.
Em sua análise sobre o papel da literatura nos estudos
culturais, Antony Easthope aponta para o fato de que o desenvolvimento da
sociedade capitalista fez com que a cultura na Inglaterra se baseasse em
distinções de classes sociais, tornando imperativo que a nova classe dominante
se sobrepusesse por meio das ideias e também da necessidade econômica; por
volta da década de 1830, a cultura se dividia entre a alta cultura da burguesia
e a cultura popular da classe trabalhadora, e dessa forma, os valores
“respeitáveis” da burguesia buscavam dominar a “vulgaridade” do povo.50 Segundo
ele, os modos de produção do capitalismo foram fatores determinantes para essa
divisão, pois “assim como o trabalhador se torna cada vez mais alienado da
produção e impelido ao mero consumo no momento de lazer, a cultura popular se
torna cada vez mais adaptada à produção de mercadorias”.51
Mas de que forma as penny bloods representariam essa
comercialização da leitura?
Para começar, elas eram escritas por hack writers
contratados que escreviam anonimamente ou sob pseudônimos. Muitos deles não
aspiravam a uma carreira literária sólida, por isso viam sua ocupação apenas
como uma forma de subsistência. O formato limitado das penny bloods era
bastante “econômico”: cada número tinha poucas páginas, com o texto dividido em
duas ou mais colunas e acompanhado de desenhos em xilogravura que ilustravam
alguma cena dramática ou perigosa da história (que serviam principalmente para
chamar a atenção dos leitores quando expostas). Além disso, elas eram
encontradas não só em bancas de jornais, mas virtualmente em qualquer
estabelecimento comercial, desde tabacarias e docerias até mercados de frutas e
peixes.52
Todos esses aspectos reforçavam a ideia que se tinha desse
subgênero como um produto vendido para uma clientela vasta e indefinida,
criando, assim, um contraste direto com a noção de literatura como uma leitura
edificante estabelecida pela cultura da classe média.
Quanto a seus leitores, são eles os elementos que mais fazem
da penny blood uma publicação exclusivamente popular. Wilkie Collins se referiu
a eles em um ensaio intitulado “The Unknown Public”, publicado em 1858 na
revista semanal Household Words, editada por Charles Dickens. Ele afirmou que
“os assinantes da revista, os clientes das distintas editoras, os membros de
clubes de leitura e de bibliotecas ambulantes e os consumidores e leitores de
jornais e resenhas” não compunham mais a maioria do público leitor na Inglaterra,
mas sim “o público misterioso, incomensurável e universal de penny-novel
Journals”,53 o qual ele dizia – e temia – não conhecer:
“Em primeiro lugar, quem são esses três milhões – o Público
Desconhecido – como ousei chamá-los? O público leitor conhecido – a minoria à
qual já me referi – pode ser facilmente descoberto e classificado. Há o público
religioso, que tem livreiros e literatura próprios [...]. Há o público que lê
pela informação, e se dedica a Histórias, Biografias, Ensaios, Tratados,
Jornadas e Viagens. Há o público que lê pelo entretenimento, e frequenta
Bibliotecas Ambulantes e as bancas de ferrovias. Há, finalmente, o público que
lê apenas jornais. [...] Mas o que sabemos dessa maioria enorme e proscrita –
das tribos literárias perdidas –, desses três milhões prodigiosos e
esmagadores? Absolutamente nada”.54
De fato, a alfabetização em massa e o desenvolvimento do
mercado editorial foram cruciais para o nascimento desse público leitor enorme
e indefinido, promovendo uma espécie de “democratização” da leitura que
representava um progresso na cultura e na educação. Entretanto, ela foi
bastante criticada por uma parcela mais conservadora da sociedade vitoriana.
Antes de tudo, havia o preconceito arraigado dos leitores das classes média e
alta – o “público conhecido” – contra a literatura “barata”, cujo conteúdo
“pernicioso” subvertia os padrões culturais vigentes, ao contrário da
literatura encontrada nas coleções de luxo e na biblioteca ambulante de
Mudie,55 por exemplo. Eles acreditavam que a alfabetização em massa havia
capacitado as classes mais baixas para ler, mas não para distinguir a leitura
“boa” da “ruim”, o que acabaria diluindo a qualidade da leitura, pois os
leitores da classe trabalhadora – o “público desconhecido” – se limitariam a
ler materiais de pouca profundidade.56
Por isso Collins concluiu, de maneira um tanto indulgente,
que esse público mal tinha começado a aprender a ler, por conta de uma
ignorância inerente à classe social à qual pertencia.57 Na verdade, ao distinguir
o público leitor entre “conhecido/culto” e “desconhecido/inculto”, o que ele
fez foi reproduzir uma segregação já existente relacionada à distinção entre
textos validados como cânone literário e textos pertencentes à cultura popular:
originalmente, a palavra “literatura” significava a forma da comunicação
escrita em oposição à comunicação oral, dando origem à oposição entre
alfabetização e analfabetismo;58 assim, para esse escritor, aparentemente, o
“público conhecido”, que tinha acesso à literatura “legítima” do cânone, era
bem-alfabetizado, e o “público desconhecido”, que não tinha acesso a ela, era
praticamente analfabeto.
Além disso, presumia-se que a leitura, em vez de aumentar a
produtividade e a disciplina dos trabalhadores, como se deduziu na época em que
a alfabetização em massa foi instituída, geraria distração e preguiça
(envolvidos pelas sensações e peripécias das histórias, eles usariam as horas
de trabalho, deliberadamente ou não, para continuarem suas leituras em vez de
se dedicarem a elas em seu tempo livre), bem como certo desrespeito à
autoridade, no pior dos casos (pois muitas histórias narravam situações em que
personagens “rebeldes” confrontavam a polícia e o magistrado diretamente).
Dados coletados na época mostram que, de fato, a
alfabetização não representou uma melhoria significativa das condições de
trabalho da classe trabalhadora (já que grande parte das funções exercidas
pelos empregados não exigiam habilidade de leitura avançada), mas sim uma via
de acesso ao entretenimento, visto que a maior parte dos usuários das poucas
bibliotecas públicas existentes no país era composta de trabalhadores, que liam
principalmente história e literatura em geral.59 Sobre esse aspecto, Jonathan
Rose complementa:
“Na segunda metade do século, a renda [da classe
trabalhadora] aumentou em 80-100 por cento, a carga horária diminuiu e [os
trabalhadores] podiam comprar uma coleção cada vez maior de jornais e revistas
baratos. Todos esses fatores – mais dinheiro, mais tempo, mais material
impresso – tornaram ainda mais vantajoso aprender a ler. O aumento da
alfabetização, assim, se deu mais pela demanda popular do que pela educação
obrigatória [...]”.60
A preocupação demonstrada por Collins e por boa parte da
sociedade com essa massa de leitores diz respeito principalmente ao gosto
compartilhado por eles. Os “árbitros” dos padrões morais e culturais estavam
sempre atentos às novas formas de cultura que emergiam da vida cotidiana da
cidade, aprovando entusiasticamente algumas, especialmente aquelas que
aspiravam a um status “respeitável”, e reprovando outras com dureza, ainda mais
quando estas interessavam às classes mais baixas. Desse modo, a qualidade da
penny blood era medida com base na classe social do leitor – que, para os
padrões vitorianos, era o mesmo que medir seu nível moral – e em menor grau
pelo seu valor literário. Quanto a essa crítica ao gosto popular, John Klancher
observa:
“A produção da alta cultura invoca a linguagem da
“recepção”, a troca simbólica de textos entre grandes escritores e leitores
sensíveis e singulares. A produção da cultura de massa gera o vocabulário mais
rude do “consumo”, a relação de oferta e demanda entre inúmeros escritores e
públicos vastos e anônimos”.61
A diferença entre recepção e consumo proposta por Klancher
está estreitamente relacionada à velha distinção entre o que é literatura e o
que não é: conforme Easthope observa, a apreciação da arte e da literatura
depende de uma minoria pequena (a elite), e é ela que mantém a tradição e a
melhor “experiência humana” (isto é, as obras da literatura, que geram uma
resposta pessoal genuína no leitor e que são produzidas por autores individuais
e identificáveis) e que define os padrões do que é valioso e do que não é. Em
suma, essa minoria é a detentora de uma cultura privilegiada, que se encontra
em oposição direta à cultura da maioria (a civilização de massa) e seus textos
(produzidos de maneira coletiva e comercial, eles são estereotipados,
formulaicos e anônimos).62
Como se pode ver, a cultura – tomada aqui no sentido
genérico do termo – sempre tende a ser definida por meio de oposições
desproporcionais entre grupos sociais e suas ideologias, em que um, composto
por um número limitado de pessoas que se proclamam “letradas” e “cultas”, se
sobrepõe ao outro, formado por multidões tidas como “ignorantes” e “incultas”.
Para as classes mais favorecidas da sociedade, essas oposições desempenham um
papel de barreira e de nível, separando sua cultura “superior” de uma outra
cultura, que é considerada marginal e “inferior”; para as classes mais
populares, contudo, elas podem funcionar como expressão de uma vontade
individual ou coletiva de que sua cultura se oponha deliberadamente à cultura
dominante.63
Desse modo, tendo em vista que as penny bloods não se
integram ao cânone, e consequentemente não se enquadram à “verdadeira
literatura” – pelo menos de acordo com essa visão elitista e limitada sobre o
que a literatura é –, elas podem ser consideradas como formas de uma
contraliteratura.
Em seu estudo sobre esse importante fenômeno cultural,
Bernard Mouralis afirma que a contraliteratura pode ser definida sob dois
prismas: no plano da criação, ela surge “cada vez que aparece num autor – que
este exista nominativamente ou anonimamente, individualmente ou colectivamente
– ou, numa obra, uma recusa, mais ou menos caracterizada, de se inserir em
modelos literários institucionalizados”; no plano estatístico – isto é, o da
leitura – ela “permite ver que aquilo que é transmitido enquanto ‘literatura’ é
apenas um sector muito limitado ao qual é sempre possível opor todo o resto da
produção textual que não constitui o objeto de nenhuma transmissão oficial, mas
cujo impacto no público é muitas vezes enorme”.64
Aplicando o conceito da contraliteratura à penny blood,
pode-se ver que, de fato, ela se caracteriza como um modelo literário não
institucionalizado, uma vez que é produzida por escritores não consagrados ou
muitas vezes desconhecidos e difundida sob um formato de publicação não
convencional – embora a serialização tenha se firmado como uma opção válida, o
formato tradicional do romance continuava sendo a partição em três volumes;
além disso, ela se propõe como um material de leitura bastante acessível e
popular, ao contrário da literatura de prestígio, tendo um alcance de público
muito maior. Mouralis argumenta, ainda, que os textos inseridos na
contraliteratura, só pelo fato de existirem e poderem ser agrupados, revelam a
arbitrariedade com que são excluídos da “literatura” e também questionam as
premissas pelas quais esta se constrói.
Em primeiro lugar, eles recusam a noção de “obra literária”,
isto é, uma peça da literatura celebrada como expressão artística elevada; em
segundo lugar, eles se apresentam como textos sem autores, não porque estes
sejam muitas vezes anônimos, mas porque a relação estabelecida entre texto e
leitor não precisa ser mediada pela referência a um autor específico, o que
transforma o texto em uma espécie de presença, e não um objeto de criação de um
autor; finalmente, a linguagem empregada nesses textos também é diferente, mais
trivial e menos ornamentada, reproduzindo ou não os estereótipos estilísticos
da “literatura”.65
Em vista disso, a ideia que se tinha na era vitoriana de que
a ficção de massa – na qual a penny blood se inclui – reduzia a literatura a um
produto barato e de má qualidade parece um tanto exagerada: ainda que tenha se
promovido no mercado editorial por uma relação de procura e oferta, ela não
representou exatamente um depauperamento da literatura, mas sim o florescimento
de uma produção textual diferente da que era propagada e favorecida pela
cultura dominante.
Depois, o que os “árbitros” culturais não viam – pois não se
davam ao trabalho de fazer uma leitura mais atenciosa e menos preconceituosa –
é que, em vez de mostrar uma visão distorcida da realidade e de valores morais,
tal como eles pensavam, os enredos comuns da penny blood indicavam certo
conservadorismo. Assim como o romance popular, que se originou na França
durante o século XIX e se difundiu especialmente sob a forma do folhetim, ela
tende para um conformismo burguês, contribuindo para a defesa de ideias conservadoras,
tais como a valorização da moral e a condenação dos desvios de comportamento
(visíveis sobretudo na relação entre os heróis e os vilões das histórias, em
que aqueles triunfam sobre esses, o que sugere que a virtude sempre se encontra
do lado da ordem social), e, assim, traduzindo “os esforços desenvolvidos pela
burguesia triunfante para consolidar as suas posições face a uma classe
operária que se torna cada vez mais objecto de inquietação”, conforme Mouralis
ressalta;66 além disso, novamente se assemelhando ao romance popular, ela
desempenha uma função lírica, apresentando o leitor a um universo imaginário
que se baseia em uma causalidade diferente da que rege o mundo “real” e
expressando-se através da narração linear e de um elenco de personagens e um
tipo de linguagem específicos, e também uma função de desvendamento do real,
revelando a parte escondida da sociedade (o subterrâneo, o esgoto e a sociedade
secreta são elementos recorrentes) e estabelecendo ligações ocultas entre os
mundos “direito” e “avesso”.67
Esse conservadorismo da penny blood remete ao que Umberto
Eco propõe como a estrutura da consolação observada na ficção de massa. De
acordo com ele,
“[o] autor de um romance popular jamais encara problemas de
criação em termos puramente estruturais (“Como fazer uma obra narrativa?”) mas
em termos de psicologia social (“Que problemas é preciso resolver para
construir uma obra narrativa destinada a um vasto público e visando a despertar
o interesse das massas populares e a curiosidade das classes abastadas?”). Esta
seria uma resposta possível: tomar uma realidade cotidiana existente, onde se
voltam a encontrar os elementos de uma tensão não resolvida [...]; acrescentar
um elemento resolutório em luta com a realidade inicial, e que se opõe a esta
como solução imediata e consolatória das contradições iniciais. Se a realidade
inicial for efetiva e não contiver, em si mesma, as condições que permitam resolver
as oposições, o elemento resolutório deverá ser fantástico”.68
Esse elemento resolutório é geralmente personificado pelo
herói, um indivíduo (ou um grupo de pessoas) que, movido pela bondade genuína e
por um senso de justiça bastante forte, usa de todos os meios que estão ao seu
alcance – alguns até um pouco fabulosos e forçados – para solucionar ou pelo
menos remediar a tensão que se faz presente nessa realidade (esses detalhes
ficarão mais claros nos capítulos seguintes através da análise das penny bloods
selecionadas).
Eco ressalta que tanto a realidade quanto a resolução devem
afetar o leitor, chamar sua atenção e tocar sua sensibilidade; para isso, o
enredo tem que distribuir as informações de maneira inesperada, e para que o
leitor se identifique com as personagens e as situações antes e depois da
solução, seus elementos característicos têm que ser repetidos até que a
identificação se torne possível em um processo contínuo de tensão e
distensão.69
Através dessa repetição de informações e de soluções, que se
encontram quase sempre submetidas às expectativas e aos desejos do leitor, além
da prenunciação exaustiva do que está prestes a acontecer e do condicionamento
das sensações,70 a ficção de massa acaba se conformando com a ordem vigente e
se tornando consoladora: seu intuito é propor uma reforma na sociedade sem
mudá-la completamente, pois se ela mudasse, “o leitor não se reconheceria nela,
e a solução, em si fantástica, parecer-lhe-ia inverossímil ou, em todo caso, o
impediria de experimentar um sentimento de participação”.71
Nesse sentido, a penny blood não constituía efetivamente uma
arma subversora que fazia as massas se voltarem contra as classes dominantes.
Aliás, parte considerável da ficção de massa era produzida pela própria classe
média. Tal como Eco aponta, a cultura de massa é, antes de mais nada, produzida
por uma elite de produtores que veem as massas como público alvo, e não
necessariamente uma cultura produzida pelas massas; a relação que se estabelece
nesse caso é dialética, entre um grupo culto de produtores e uma massa de
fruidores, em que “uns interpretam as exigências e as instâncias dos outros”.72
Atacando a penny blood, a classe média pretendia depreciar o gosto popular por
crimes e horror para manter sua posição privilegiada de dominação ideológica e
provocar pânico moral em relação à cultura das massas.73
A penny blood representou de forma expressiva a cultura
impressa consumida pela classe trabalhadora e, consequentemente, a ficção de
massa vitoriana, consolidando-se como um gênero particular e rico ao seu modo.
Inegavelmente sensacionalista, formulaica e comercial, ela nunca se propôs como
literatura inserida em altos padrões estilísticos e morais, mas sim como ficção
de entretenimento descomprometido e inofensivo. Críticas parecidas com as que
foram feitas a ela ressoam atualmente, direcionadas a livros considerados
populares (no sentido de “ruim”, “vulgar”). Se Neil Gaiman, escritor inglês de
quadrinhos e fantasia, tivesse vivido na era vitoriana, provavelmente não teria
conseguido enunciar seu discurso, que defende veementemente a leitura de ficção
de entretenimento.
NOTAS:
4. GAIMAN, Neil. Neil Gaiman lecture
in full: Reading and obligation. Palestra
originalmente realizada em 14 de outubro de 2013 pela The Reading Agency.
Disponível em: <http://readingagency.org.uk/news/blog/neil-gaiman-lecture-in-full.html>.
Acesso em: 05 de março de 2014. Essa e todas as traduções contidas nesta
dissertação são de minha responsabilidade.
5. Ibidem.
6. BRANTLINGER, Patrick. The Reading
Lesson: The Threat of Mass Literacy in Nineteenth-Century British Fiction. Edição Kindle. Bloomington
e Indianapolis: Indiana University Press, 1998, pos. 59.
7. Ibidem, p. 54.
8. KIRKPATRICK, Robert J. From the
Penny Dreadful to the Ha’penny Dreadfuller: A Bibliographic History of the
Boys’ Periodical in Britain 1762-1950. London: The British Library and Oak
Knoll Press, 2013, pp. 69-73.
9. KILLEEN, Jarlath. “Victorian
Gothic Pulp Fiction”. In: SMITH, Andrew; HUGHES, William (Eds.). The Victorian Gothic: An Edinburgh
Companion. Edição Kindle. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012, pos. 1043-1048.
10. BRANTLINGER, op. cit., pos. 80.
11. FLINT, Kate. “The Victorian Novel
and Its Readers”. In: DAVID, Deirdre (org.). The Cambridge Companion to the Victorian Novel, Cambridge:
Cambridge University Press, 2001, p. 18.
12. DAVID, Deirdre. “Introduction”.
In: DAVID, Deirdre (org.). The Cambridge Companion to the Victorian Novel, p. 5.
13. PICARD, Liza. Victorian London:
The Life of a City 1840 – 1870. London: Phoenix, 2005, p. 73.
14. ELIOT, Simon. “The Business of
Victorian Publishing”. In: DAVID, Deirdre (org.). The Cambridge Companion to
the Victorian Novel, p. 38.
15. CHILDERS, Joseph W. “Industrial
Culture and the Victorian Novel”. In: DAVID, Deirdre (org.). The Cambridge
Companion to the Victorian Novel, p. 77.
16. PARLIAMENT. The 1870 Education Act. Página do Parlamento
Britânico. Disponível em: <http://www.parliament.uk/about/livingheritage/
transformingsociety/livinglearning/school/overview/1870educationact/>.
Acesso em: 07 de setembro de 2012.
17. BRANTLINGER, Patrick; THESING, William B. (Eds.). A Companion to the Victorian Novel.
Oxford: Blackwell Publishing, 2002, pp. 33-35.
18. CHILDERS, op. cit., pp. 85-6.
19. FLINT, op. cit., p. 19.
20. MAYS, Kelly J. “The Publishing
World”. In: BRANTLINGER, Patrick; THESING, William B. (Eds.). A Companion to the Victorian Novel, p.
12.
21. Ibidem, p. 16.
22. Quanto a isso, Kelly Mays cita o
exemplo de Sir Walter Scott, cujos romances – como Waverley (1814) e Ivanhoe (1820) – tiveram tiragem e vendagem iniciais de
dezenas de milhares de cópias: “When Scott’s publisher, Archibald Constable,
failed in 1826 for around £250,000, leaving Scott himself £120,000 in the red, the very size of their debts
revealed just how large the potential profits and the potential risks were in
the highstakes of fiction publishing […]” Ibidem,
pp. 12-13.
23. Enquanto o termo paperback se refere a edições de baixo
custo, que eram encadernadas com capas flexíveis de papelão coladas ao miolo do livro pela lombada, yellowback
corresponde a romances baratos e versões abreviadas de obras clássicas publicados durante o século
XIX.
24. “[…] Victorian publishing came to
be characterized by an odd blend of daring speculation and cautious conservatism. That odd blend became
most apparent in the way that successful innovations tended to become orthodoxies: if a particular type of
novel or a particular publishing format proved successful, then authors and publishers tended to ride the wave
until readership and profits ebbed.” Idem, p. 13.
25. Sobre esse costume, Patrick
Brantlinger afirma: “The instances in which Dickens altered his novels in the middle
of their serial publication because of sales figures or, even more
dramatically, because of fan mail or direct reader response are evidence that,
at least for himself and several other successful novelists, the relations between
reader and writer could be dialogical, almost conversationally familiar.” BRANTLINGER, op. cit., pos. 237.
26. MOURALIS, Bernard. As contraliteraturas. Tradução de
António Filipe Rodrigues Marques e João David Pinto Correia. Coimbra: Livraria
Almedina, 1982.
27. Some adepts call them ‘Penny
Dreadfuls,’ but ‘Awfuls’ seems to me by far the more expressive term” The
London Hermit (Walter Parke), “The Physiology of ‘Penny Awfuls,’” The Dublin University
Magazine, setembro de 1875, pp. 364-376 apud COLAVITO, Jason. “A Hideous Bit of
Morbidity”: An Anthology of Horror Criticism from the Enlightenment to World
War I. Jefferson: McFarland, 2008, p. 168.
28. Alguns dos autores que escrevem sobre penny bloods e/ou
penny dreadfuls citados nesta dissertação fazem distinção entre esses dois termos e os utilizam de acordo
com o que cada um deles significa, enquanto outros empregam somente o termo penny dreadful para se referir às
duas categorias de histórias. Visto que concordo com essa distinção e considero as obras ficcionais
selecionadas para esta pesquisa como penny bloods, utilizarei esse termo;
porém, nas citações, utilizarei o termo originalmente escolhido pelos autores, especificando
ou acrescentando a categoria a qual me refiro entre parênteses (no corpo do
texto) ou colchetes (nas citações).
29. “The adult audience for gothic
and romantic instalment fiction, or the Edward Lloyd style ‘penny blood’, had begun
to drift away from mid century, with the advent of cheap Sunday newspapers and
weekly illustrated magazines now carrying serialized novels. ‘Naturally people
who read such romances have ceased to take an interest in them since they found
that the penny weeklies gave them three or four times as much matter of the same
character for the same price’ […]. A form of entertainment recently abandoned
by adults was to be appropriated, and in the process transmuted, by a younger
age cohort.” SPRINGHALL, John. “‘Disseminating Impure Literature’: The ‘Penny
Dreadful’ Publishing Business Since 1860”. In: The Economic History Review, New Series, v. 47, n. 3 (agosto de 1994), p. 568.
30. Ibidem.
31. Quanto a isso, John Springhall,
um dos principais pesquisadores do subgênero penny dreadful, lista alguns significados
atribuídos a ele: “First, it is used as a general term of abuse for cheap
papers or fiction of any description written throughout the nineteenth and
early twentieth centuries. Second, it is used to describe highly coloured,
criminal or Gothic penny-issue novels of the 1830s and ’40s, such as those
issued by publisher Edward Lloyd (1815-90) from Salisbury Square in weekly or
monthly parts [penny bloods]. Third, a more appropriate application of the term
is to the successors of these novels – directed, from the 1850 onwards, toward
a more specifically juvenile market – culminating in the publications of the
NPC of the 1860s. Fourth, ‘penny dreadful’ is just as often used as a label for
penny magazines or the cheaper weekly boys’ papers appearing from the mid-1860s
onwards, mostly associated with Edwin Brett or the Emmett brothers. And a fifth
usage applies the term not only to the boys’ journals themselves, but also to
the long-running weekly serials they contained. These serials, if successful,
were then published in separate weekly parts and later in collected shilling
volumes, the latter of which provides us with a sixth definition.” SPRINGHALL,
John. “‘A life story for the people’? Edwin J. Brett and the London ‘Low-Life’
Penny Dreadfuls of the 1860s”. In: Victorian Studies, v. 33, n. 2 (inverno de
1990), pp. 226-227.
32. The London Hermit apud COLAVITO,
p. 169.
33. “My dear sir, Milton couldn’t
write ‘Penny Awfuls,’ nor did he live in an age when literature was a branch of
commerce,” returned the O’Riginal. “There is a knack in ‘Awful’ writing as in
everything else. It requires special capacities to do it with success. The
faculty of skilful construction is essential; but original genius is rather in
the way than otherwise.” Ibidem, p. 172.
34. TURNER, E. S. Boys Will Be Boys:
The Story of Sweeney Todd, Deadwood Dick, Sexton Blake, Billy Bunter, Dick Barton,
et al [1948]. Edição Kindle. London: Faber and Faber, 2012, pos. 402-415.
35. “Simply absurd and puerile to
adult readers of ordinary intelligence, they may be powerful for harm in the hands
of the uninstructed juvenility [...] [L]icentious scenes, incidents, and
suggestions are sometimes to be found. But, in other respects, and mainly by
instilling in the youthful mind an antagonism to law and order, and the duties
of everyday life; by exciting vain expectations, and false notions of life, and
giving highly-coloured pictures with neither the value of truth nor the
refining power of poetic romance, their effect cannot but be baneful.” The
London Hermit apud COLAVITO, op. cit., p. 180.
36. Ibidem, p. 181.
37. HARVARD LAW SCHOOL LIBRARY. Página da biblioteca da Escola de Direito de Harvard sobre
os broadsides. Disponível em: <http://broadsides.law.harvard.edu/>. Acesso em: 27 de fevereiro de 2015.
38. Sobre esse estranho paradoxo, Lyn
Pykett afirma: “[…] much of the appeal of the various versions of the Newgate
Calendar to their first readers derived from the way in which they made a
spectacle of ‘deviant’ or socially transgressive behavior, and also of the
violent and public manner of the punishment of such behavior.” PYKETT, Lyn.
“The Newgate Novel and Sensation Fiction, 1830-1868”. In: PRIESTMAN, Martin
(org.). The Cambridge Companion to Crime Fiction. Cambridge: Cambridge
University Press, 2003, p. 20.
39. SCHWARZBACH, F. S. “Newgate
Novel to Detective Fiction”. In: BRANTLINGER, Patrick; THESING, William B.
(Eds.). A Companion to the Victorian Novel, p. 230.
40. As façanhas desses dois
criminosos foram narradas nos romances Rookwood (1834) e Jack Sheppard: A Romance
of the Robber-Hero (1839-1840), ambos de William Harrison Ainsworth.
41. PYKETT, op. cit., p. 20.
42. Apesar de o romance
sensacionalista ter se consolidado cerca de duas décadas depois, o
sensacionalismo já podia ser percebido na penny blood e em alguns romances de
Newgate, conforme afirma Anne-Marie Beller: “[…] sensationalism permeated
popular print culture throughout the earlier decades of the Victorian period,
in penny fiction and in the proliferation of new periodicals catering to the
working classes.” BELLER, Anne-Marie. “Sensation Fiction in the 1850s”. In:
MANGHAM, Andrew (org.). The Cambridge Companion to Sensation Fiction. Edição Kindle. Cambridge:
Cambridge University Press, 2013, pos. 406.
43. PYKETT, op. cit., p. 33.
44. Ibidem, p. 34.
45. HOGLE, Jerrold E. “Introduction:
the Gothic in western culture”. In: HOGLE, Jerrold E. (org.). The Cambridge
Companion to Gothic Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, pp.
2-3.
46. PUNTER, David; BYRON, Glennis.
The Gothic. Oxford: Blackwell Publishing, 2004, pp. 4-5.
47. PUNTER; BYRON, op. cit., p. 26.
48. WARWICK, Alexandra. “Victorian
Gothic”. In: SPOONER, Catherine; McEVOY, Emma (Eds.). The Routledge Companion
to Gothic. Oxon: Routledge, 2007, p. 33.
49. GLOVER, David; MCCRACKEN, Scott. “Introduction”. IN: GLOVER, David;
MCCRACKEN, Scott (Eds.). The Cambridge Companion to Popular Fiction. Cambridge:
Cambridge University Press, 2012, p. 4.
50. EASTHOPE, Antony. Literary into
cultural studies. London: Routledge, 1991, p. 75.
51. “[…] as the worker becomes ever
more alienated from production and propelled towards mere consumption in leisure
time, so popular culture becomes ever more adapted to commodity production.” Ibidem,
p. 78.
52. TURNER, op. cit., pos. 385-389.
53. COLLINS, Wilkie. “The Unknown
Public”. Disponível em: <http://www.web40571.clarahost.co.uk/wilkie/etext/TheUnknownPublic.htm>.
Acesso em: 15 de março de 2014.
54. COLLINS, op. cit.
55. A biblioteca ambulante de Mudie era considerada uma das
mais respeitáveis, visto que seu proprietário, Charles Edward Mudie, costumava
selecionar pessoalmente livros que teriam um alto teor moral. Para mais detalhes,
ver FLINT, op. cit., p. 21.
56. Essa era uma visão compartilhada tanto por comentaristas
contra a alfabetização em massa quanto por alguns romancistas, que, mesmo sendo
a favor dela, admitiam temer esse efeito, conforme resumido por Patrick Brantlinger:
“While the growth of the reading public is a sure sign of ‘the progress to
perfection’, that growth nevertheless causes a decline in the general
profundity and literary greatness of the culture of any nation in which it
occurs.” BRANTLINGER,
op. cit., pos. 325.
57. COLLINS, op. cit.
58. EASTHOPE, op. cit., p. 7.
59. ROSE, op. cit., p. 37.
60. Ibidem, p. 33.
61. KLANCHER, John. The Making of
English Reading Audiences, 1790-1832. Madison: U of Wisconsin P, 1987, p. 13
apud BRANTLINGER, op. cit., pos. 211.
62. EASTHOPE, op. cit., pp. 3-4.
63. MOURALIS, op. cit., p. 62.
64. Ibidem, p. 39.
65. Ibidem, pp. 59-61.
66. Ibidem, p. 52.
67. Ibidem, pp. 53-54.
68. ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. São Paulo:
Perspectiva, 2011, pp. 190-191.
69. Ibidem, p. 193.
70. Ibidem, pp. 196-198.
71. Ibidem, p. 202.
72. Ibidem, p. 54.
73. SPRINGHALL, John. “‘Pernicious
Reading’? ‘The Penny Dreadful’ as Scapegoat for Late-Victorian Juvenile Crime”.
In: Victorian Periodicals Review, v. 27, n. 4, inverno de 1994, p. 329.